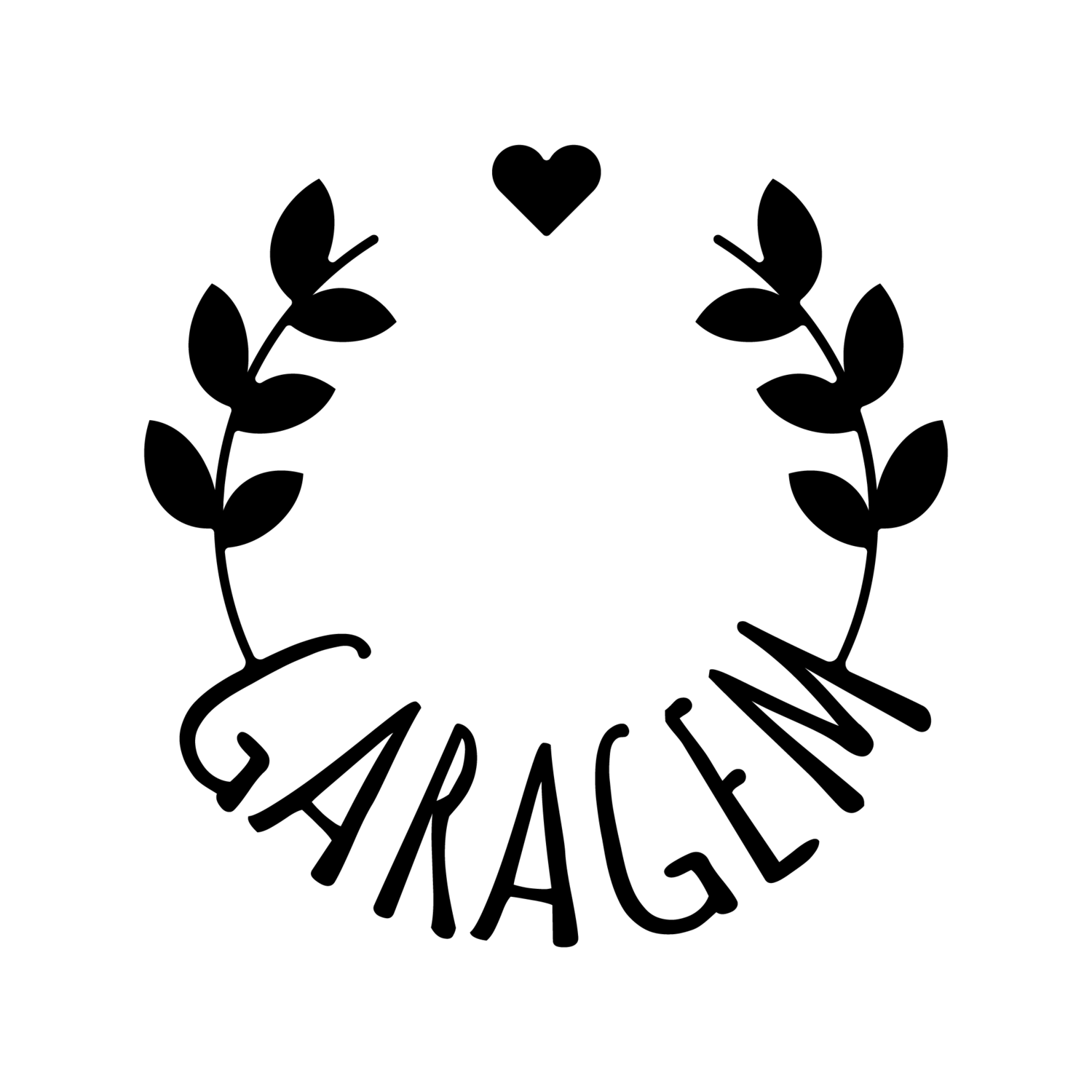Start where you are & release the perfection.
ahoy!
Gerir expectativas é a filha da putice.
Gerir expectativas é a filha da putice. Achamos que temos tudo controlado, previmos qualquer cenário, entramos de cabeça erguida e prontos para o que der e vier - afinal, em teoria, sabemos o que pode vir, de onde poderá vir e que danos provocará.
Este fim de semana vi o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, quando era miúda lembro-me do meu pai não perder uma corrida, o som dos carros - ainda que diferente - ainda me faz estremecer a espinha e arrepiar cada pêlo do corpo, afinal, cresci ao lado do autódromo do Estoril e os primeiros 10 anos da minha vida foram a par e passo do circuito. A memória é, portanto, sensorial, ainda que não percebesse patavina do que estava a ver até me inteirar da coisa - quase 30 anos mais tarde - e, por isso, este domingo, foi toda uma emoção. Uma espécie de nostalgia embrulhada com a aflição da corrida, vivi cada segundo daquela prova, colada ao ecrã, sem conseguir desviar a atenção. A velocidade com que tudo muda, as expectativas de como correrá: sabes de onde começas, sabes ao que vais mas, no fundo, nunca sabes verdadeiramente como terminas. O Verstappen iniciou corrida em P20, terminou em 2º lugar. O Norris em P01, fez uma corrida belíssima, mantendo afincadamente um 1º lugar com o Hamilton coladinho a ele… bastou uma decisão precipitada para cair.
“O que leva uma pessoa a correr?” Penso, enquanto os vejo. Há tanto que pode correr mal, há pouco que se possa controlar, conhece-se o desporto, conhece-se o carro, os componentes, a pista, prevê-se o tempo, estudam-se os adversários… mas nunca, nunca, é suficiente.
De repente, surge-me: “o que leva uma pessoa a amar?” e ouço as palavras do Schumacher: “I didn’t have statistics in my mind when I was racing. It was always a consequence – a nice consequence. I enjoyed it, but it wasn’t the reason I was racing.” nunca pensamos como vai correr, podemos montar cenários - bons ou maus - mas nunca sabemos verdadeiramente. Amamos porque amamos.
Entramos no carro, confiamos em quem está a nosso lado, aproveitamos cada momento da corrida. Nas corridas em que não levamos a melhor: limpamos as lágrimas, aceitamos o mar revolto que nos embarga a garganta e esperamos que as nuvens passem.
Amar e correr, até que deixe de fazer sentido.
Foi abrir as janelas à manhã II
A casa dos avós do Marco Gil, fotografada por ele.
Luís saíra para levar as crianças à escola, havia o autocarro que as levava da aldeia, mas nas manhãs em que era ele a vesti-los a brincadeira sobrepunha-se sempre a qualquer horário. Ela já havia descido para abrir as portadas à mercearia, o Sr. Manuel não tardava a trazer os cabazes com os produtos da sua horta e ela queria ligar tudo antes dele chegar.
A mercearia funcionava no rés-do-chão da casa onde moravam, era uma casa alta de paredes brancas e janelas em toda a sua extensão. O espaço, que hoje dava lugar à mercearia, havia sido, em tempos, uma taberna, e as pessoas da aldeia ainda falavam disso, contavam histórias do tempo que lá passaram partilhando memórias de tempos felizes, mesmo quando não o eram, porque o trabalho era duro e a vida difícil, mas era como se aquele sítio houvesse sido um refúgio para os dias cinzentos. Quando Luís anunciara, na festa da aldeia, que o espaço reabriria ao público foi como se uma onda de ternura percorresse os rostos mais antigos.
A casa manteve-se fechada durante muito tempo e era a mãe de Luís quem a cuidava, como se mantendo presente um passado que não sabia como largar. Quando ela engravidou foi como se o caminho a dois, que mal haviam traçado, se estendesse a seus pés. Luís queria regressar a Aldeia, fazia todo o sentido, a casa dos avós estava fechada há demasiado tempo e podiam arranjá-la eles mesmo e fazer dela a sua casa. Fora ali que crescera, que brincara, que havia sido feliz como não se lembrara mais, e queria para o bebé memórias tão felizes quanto as dele.
A casa dos avós do Marco Gil, fotografada por ele.
Aproveitaram grande parte da mobília que já lá havia, ela gostava de mobília antiga, era como se lhe chegasse com muitas vidas dentro, perdia-se muitas vezes a imaginar como seria numa vida anterior à deles, como seria a casa, como se movimentavam nela, como seriam as suas rotinas. Na cozinha, tinham uma cristaleira que ela vira na taberna na noite em que ele a levara lá pela primeira vez, e era como ter uma espécie de memória que se materializava todos os dias, pelo pequeno-almoço. Recordava, com comoção, a preocupação de Luís quando ela o convenceu a restaurarem o móvel no terraço da casa. Ela estava grávida de 5 meses e estavam no pico do Verão, Luís tentara demovê-la por todos os meios, mas parecia que a gravidez ainda a tornava mais teimosa do que era e não teve outro remédio se não aceder. Fizeram um acordo, restaurariam o móvel ao pôr-do-sol se ela prometesse ir com ele, à lagoa, durante o dia - era a única forma de a manter sossegada, caso contrário daria com ela empoleirada em cadeiras a limpar os tectos - e ela concordou, ainda que impondo a condição de levar os seus livros. Dois, porque podia aborrecer-se. Ele riu alto.
Fora o melhor Verão de que tinha memória e ela sentia-se mais mulher do que nunca, usara vestidos de algodão fino o Verão todo e andara descalça a maior parte do tempo. Adorava andar descalça, sentir a terra pulsar sobre a planta dos seus pés como se fizesse parte dela. Lembrava-se de como Luís a olhava, como a puxava pela cintura para junto dele, acariciando-lhe a barriga - “Vamos ter um bébé” -, dizia-lhe, e ela beijava-lhe o rosto bronzeado enquanto passava os dedos pelo seu cabelo.
O terraço da casa dos avós do Marco Gil, fotografado por ele.
Os finais de dia no terraço, a restaurar a cristaleira, rapidamente se transformaram em noites de convívio. Os amigos apareciam, ao cair do sol, oferecendo ajuda e ela fazia limonada e servia scones, depois alguém trazia um pequeno grelhador, outro trazia uma garrafa de vinho, e as noites terminavam, já de madrugada, ao som de uma guitarra. Ao final do Verão já tinham restaurado mais móveis do que os que haviam planeado, e a casa compunha-se.
Foi abrir as janelas à manhã I
Decorriam os primeiros dias de Dezembro e o frio já se sentia nos ossos. Ela estava do lado de lá da porta envidraçada, da marquise, e segurava, entre as mãos, uma chávena de chá quente que sorvia lentamente. Tinha no corpo um vestido comprido, que escondia com uma camisola de malha e um casaco grosso para enganar o frio, e contemplava, de olhar vago, o fumo que subia do forno a lenha, do lado oposto do jardim. Levantara-se de madrugada, havia qualquer coisa de sagrado no acordar antes do resto do mundo para amassar o pão que chegaria, ainda quente, à mesa do pequeno-almoço. As luzes da aldeia ainda estavam acesas, mas o dia já principiara a amanhecer por entre a serra, não tardaria para o resto da casa despertar e a cozinha, agora vazia, dar lugar ao rodopio de pratos e chávenas do pequeno-almoço apressado antes do mundo arrancar.
As crianças ainda dormiam por mais uma hora, mas ele não tardaria a acordar, não era de acordar cedo, nunca fora, mas desde que as crianças nasceram que não perdia um amanhecer deles. Os olhos rasgados de sono e os cabelos desgovernados eram, há muito, a luz mais intensa da manhã. E nem as noites em claro, dos dias em que era quase visível as palavras e as frases vibrarem-lhe na pele, lhe roubavam aquele prazer.
Pousou a chávena na pedra da cozinha, estendeu a toalha de linho sobre a mesa e foi abrir as janelas à manhã. Na sala ainda se sentia a presença dele. As provas do novo livro espalhadas sobre a mesa, o computador aberto, um bolo de arroz mordido e esquecido à metade, enquanto terminava, numa palpitação, uma frase. Ela já não saberia como viver sem esta presença tão intensa, não era apenas a pessoa que ele era, mas a sua presença que ficava nos sítios que habitava mesmo depois de sair. Era como se todos os sítios fossem dele, mesmo que os houvesse pisado pela primeira vez. Era um homem de lugares, de pessoas, e isso fora uma — de tantas coisas — que a fizera apaixonar-se por ele. Era um homem do mundo e era dos outros, mas no seu coração conservava uma humildade que vinha de menino, de quem não esquece nunca, de quem sabe e sente as suas raízes. Uma vez perguntara-lhe que espécie de árvore seria e quase poderia jurar que ele diria ‘uma Oliveira’, são árvores de raízes fortes e muito compridas e os gregos associavam-nas à força e à vida. Lembrava-se de ler que, na Europa, era em Portugal que existiam os exemplares mais antigos, em Santa Iria da Azóia ainda se podia visitar uma Oliveira milenar com uma idade estimada em 2850 anos. Assentava-lhe na perfeição, mas ele respondera “uma Sobreira”. E até hoje ela não desvendara o porquê.
Antes de sair para o alpendre espreitou, uma vez mais, o quarto dos meninos, era capaz de os olhar por horas enquanto dormiam, pensou. Apertou o casaco junto ao pescoço e saiu para a manhã fria. Depois de tirar todo o pão do forno, separou dois pães num saco de pano, para a vizinha, e dispôs o resto na mesa da cozinha junto à marmelada e ao doce de tomate. Colocou o leite e a cafeteira italiana a ferver, abeirou-se da mesa e agarrou com as duas mãos a ‘rosquinha’ mais pequena da fornada. O pão, ainda quente, escaldava-lhe os dedos, mas não conseguia evitar, era das memórias mais vivas que tinha de infância, agarrar o pão quente e abri-lo com as mãos. Soprar dedos e pão. Encher a faca de manteiga e vê-la derreter para depois lhe colocar uma colher de açúcar amarelo dentro. Estava nesta gulodice quando sentiu as mãos dele rodearem-lhe a cintura:
- Bom dia, miúda!
(haviam de ter 71 e 75, e ele)
- Bom dia, miúda!
(e de seguida os lábios dele, a barba por desfazer, o abraço de todos os dias.)
Ela dá-lhe a provar um pouco do seu pão e ele puxa-a para si enquanto trinca o pedaço oferecido.
- Espera, já sei! — diz ele, mastigando o pão e correndo para a sala.
Ela espreitava-o da porta da cozinha quando, segundos depois, ouviu os primeiros acordes daquela música que os conhecia tão bem. Fechou os olhos e lembrava a primeira vez que a haviam dançado, tinha sido em Paris, na sua primeira viagem juntos. Uma das manhãs, enquanto subiam a escadaria do Sacré Coeur, ouviram ao longe a música de um realejo. Olharam um para o outro e sorriram com cumplicidade, toda a sua história havia sido feita de pequenas coincidências, como se o caminho lhes tivesse sido traçado há muito. Entrelaçaram as mãos, os corpos abraçaram-se como que por instinto, e deixaram-se embalar pela melodia. E agora estava ali, na casa que era deles, e a música soava-lhe como naquela primeira vez.
Foi por entre a névoa da memória, que sentiu uma mão apertar a sua e outra segurá-la pela cintura, não abriu os olhos. Deixou-se levar nos seus braços, como já fizera há tanto tempo atrás, pousando a cabeça sobre o seu ombro.
Estavam descalços e dançavam, a cozinha cheirava a café. A vida era simples e era bonita, era tão bonita.