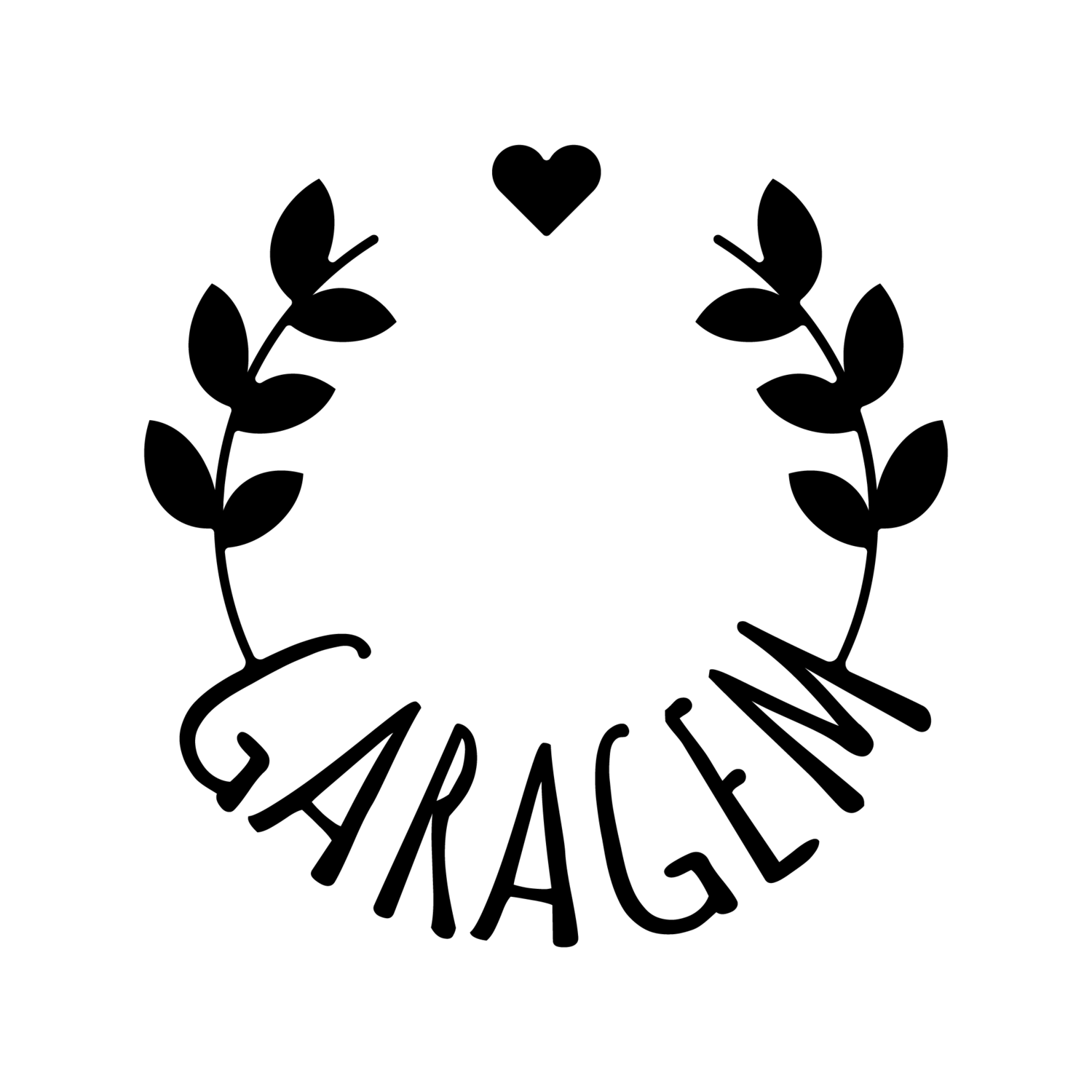Estamos a regressar devagarinho à superfície, depois de uns dias mergulhados numa bicheza qualquer que nos apanhou de surpresa — primeiro a mim, depois à Matilde, quando eu mal começava a levantar a cabeça.
Os dias foram-se arrastando, mais lentos, mais baços, com o cansaço a pesar no corpo e na alma. Coincidiram com a menstruação e com muitos dias de chuva cerrada, daqueles que encharcam até o pensamento. Só hoje é que senti, finalmente, a Primavera no corpo.
Tinha uma consulta marcada de manhã. A Matilde já estava melhor, e por isso ficou com a minha mãe, a brincar no jardim, enquanto eu ia.
Vesti umas calças de ganga, uma blusa leve, um colete de crochet por cima — e embora ainda me calçasse com o receio da lama, o corpo já pedia outra estação.
Saí com tempo, deixei a Matilde cedo e deixei-me levar devagar, a sentir o sol como quem reencontra um velho amigo.
Depois da consulta almocei com a minha mãe e voltámos para casa. A Matilde adormeceu no carro — brincar no jardim com a avó é bem mais divertido do que dormir a sesta.
Olhei-a pelo retrovisor, e o meu coração deu um salto no tempo. Vieram-me à memória os meus próprios Verões de infância: o cansaço bom depois do mar e da areia, o sal ainda na pele, a viagem de regresso com as pernas doridas de tanto correr. As tardes no jardim dos meus avós, debaixo das árvores, a inventar brincadeiras que duravam horas. O pão com manteiga e açúcar, o batido de morangos acabados de colher.
Olho para ela e quase sinto no meu corpo o cansaço desses dias antigos. E aquela paz de adormecer no carro, suada e feliz.
Os meus pais não tinham muito, e deram-nos tudo. Hoje, temos tanto... e tantas vezes sinto que não lhe dou nem metade.
Vivemos numa gaiola dourada, e eu só quero voar.
Não há moral nenhuma nesta história. Não é inspiracional, nem motivadora. Não serve para nada — a não ser para deixar aqui, despido, este coração que vos escreve.
E, se por acaso, este coração tocar ao de leve no vosso, que nos possamos encontrar no simples, no agora, com os pés bem assentes nesta terra que pulsa.
Que possamos escutar o que realmente importa, para lá do ruído.