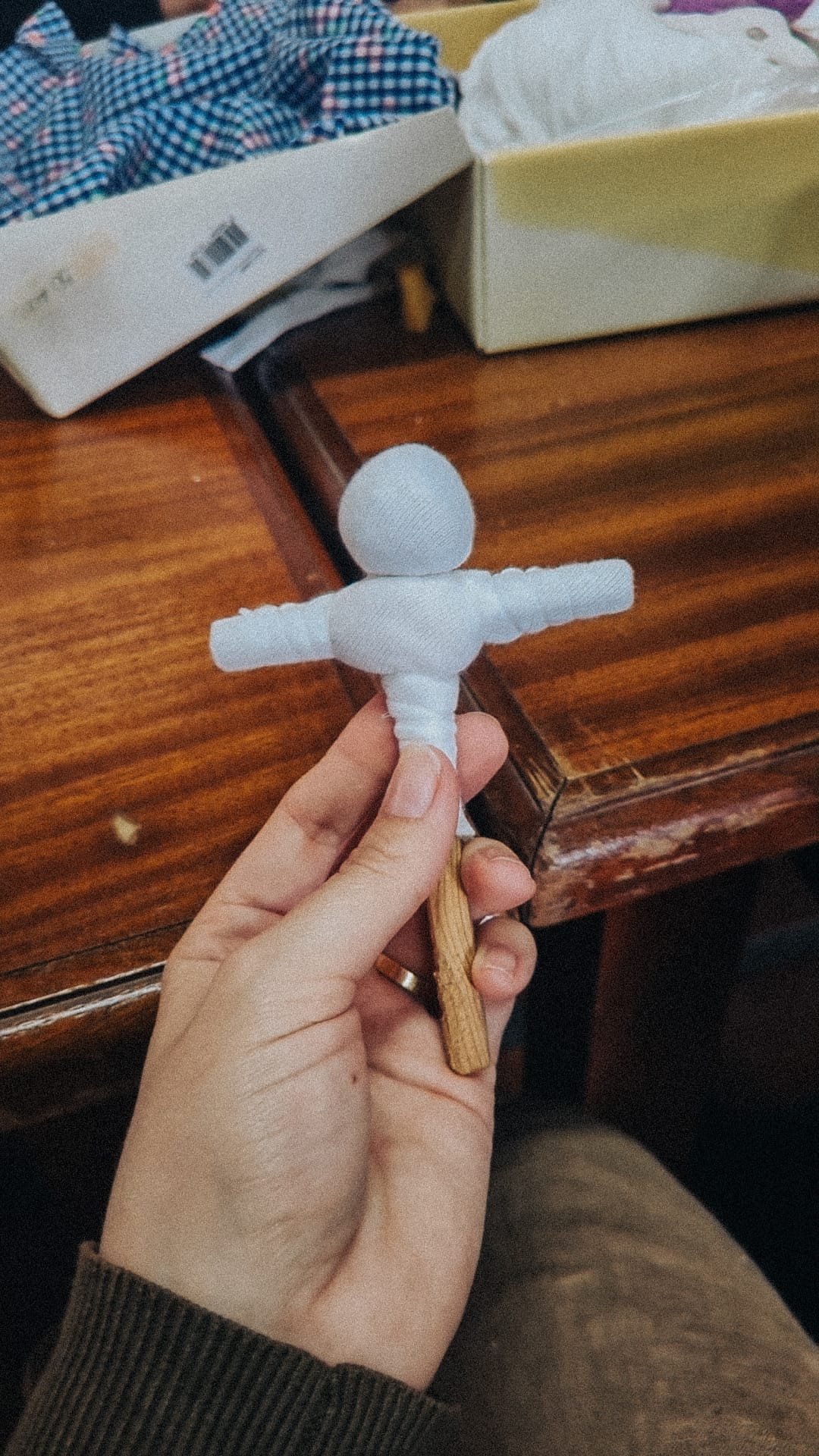[🇬🇧 english below]
“Porra”, foi apenas o que consegui dizer quando as luzes da sala Manoel de Oliveira, no Cinema São Jorge, se acenderam. Ainda a limpar as lágrimas, a agradecer à Fátima que comprara os bilhetes mal abriram as bilheteiras, e a abraçar o Miguel que ainda estava naquele plano em que ficamos todos quando algo nos arrebata o peito.
Já no carro, só conseguia pensar como é bonito poder dar à minha filha um mundo onde existiu um Jeff Buckley, onde a voz dele ainda ecoa e inspira tantos músicos e criativos. Buckley deixou-nos demasiado cedo, mas será lembrado como sempre desejou, pela música que fez nascer.
Um documentário humano e pessoal, profundo como só de um lugar de total vulnerabilidade se consegue. O retrato íntimo de um homem de uma sensibilidade rara, que sentia o mundo com o coração a habitar cada poro da sua pele, e que me fez questionar se sobreviveria à exposição e à crueldade dos dias de hoje. Comoveu-me o olhar atento e inteiro - das mulheres da sua vida, dos amigos - sobre ele, destecendo mitos e trazendo à luz a humanidade - e a verdade - que o habitava. Será hoje, ainda possível, conhecer alguém tão inteira e vulneravelmente? Ou não seremos nós, agora, um conjunto de superficialidades e distintos ângulos de quem connosco divide o tempo?
“Grace” é dos álbuns mais avassaladores que escutei em toda a minha vida, e Jeff Buckley ocupa nos meus dias um lugar cativo ao peito. Mesmo quando se torna duro escutar a sua voz. É impressionante, e sempre surpreendente, como tecemos relações tão profundas com a arte.
”It’s never over” é um documentário que vale a pena ser visto e revisto. É um pedaço de Buckley resgatado, um espaço onde é possível coabitar com ele. Com os seus demónios, com o mais Humano que podemos ambicionar.
🇬🇧
“Fuck”, was all I managed to say when the lights came up in the Manoel de Oliveira room at Cinema São Jorge. Still wiping away tears, still thanking Fátima for getting the tickets the moment sales opened, and holding Miguel, who was still somewhere inside that space we all fall into when something cracks open our chest.
Later, in the car, I couldn’t stop thinking how beautiful it is to give my daughter a world where Jeff Buckley once existed — where his voice still echoes, still moves and inspires so many artists and dreamers. Buckley left far too soon, but he’ll be remembered just as he wished: through the music he brought into being.
A human, deeply personal documentary — profound in the way only something born from utter vulnerability can be. An intimate portrait of a man of rare sensitivity, who felt the world with a heart that seemed to live through every pore of his skin. It made me wonder whether he would have survived the exposure and cruelty of today’s world.
I was moved by the attentive, wholehearted gaze — of the women in his life, of his friends — that looked upon him, unravelling myths and bringing to light the humanity — and truth — that lived within him. Is it still possible, today, to truly know someone in such wholeness and vulnerability? Or have we become, now, a collection of surfaces and shifting angles reflected by those who share our time?
Grace remains one of the most devastatingly beautiful albums I’ve ever listened to, and Jeff Buckley holds a permanent, tender place in my heart — even when it becomes painful to hear his voice. It never ceases to amaze me how deeply we can bond with art.
It’s Never Over is a documentary worth seeing, and seeing again. It’s a fragment of Buckley brought back to life — a space where one can dwell with him. With his demons. With all that is most achingly human within us.