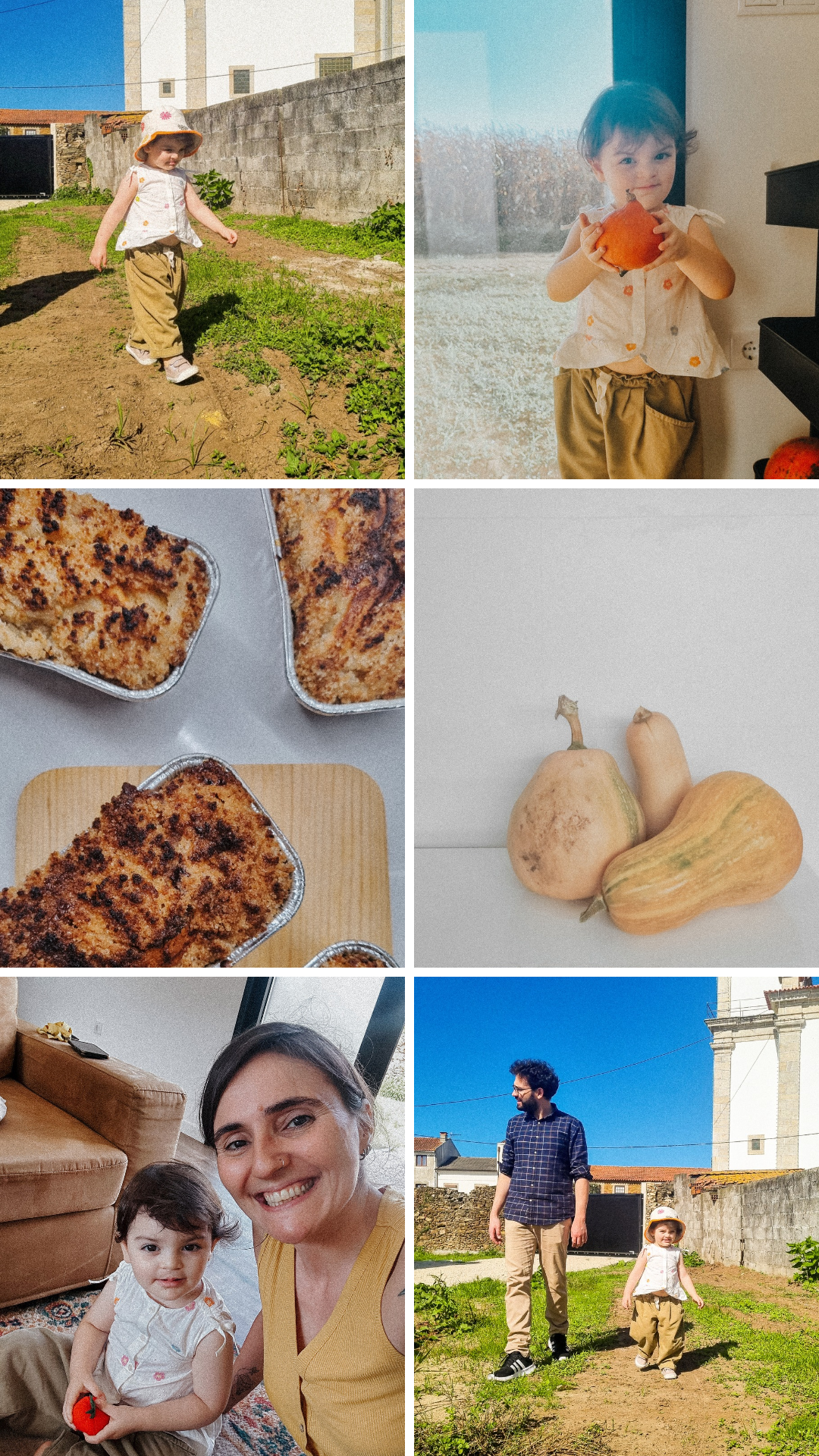[🇬🇧 english below]
Não foi de repente, foram pequenos detalhes que se foram acentuando com o tempo. Foi reconhecer, um dia, nos meus próprios olhos, os mesmos traços discretos que via no meu pai quando era miúda — primeiro quando sorria, depois como memória presente dos momentos felizes. Como histórias que nunca nos abandonam. Não foi de repente… eu é que não estava atenta.
De repente, o corpo já não responde da mesma forma: levantar da cama pede um espreguiçar mais consciente, o jantar precisa de vir mais cedo, um pouco mais longe do deitar. O nariz e os olhos acomodam um novo franzir, esse gesto instintivo de “ver melhor ao longe”. E a memória tornou-se uma longa manta de retalhos. Fui esquecendo nomes que outrora comigo privaram, linhas que me teceram nos princípios desta manta; outros mantêm-se perto, mesmo na distância do tempo e do espaço, como um carril sempre, sempre cheio. Deles me construo, do tecer de um beijo, de uma mão que segura a nossa, de um abraço cuja memória táctil persiste.
Fiz as pazes comigo, com a incapacidade de chegar a tudo e a todos, com a necessidade de escuridão e recolhimento. Aprendi a falar com a “Inês má” que me diz que não sou capaz, que não mereço, que não gostam de mim, que sou uma fraude. “Obrigada”, sussurro-lhe, “mas eu sou capaz, eu mereço, eu sou amada, eu sou inteira.”
Não foi de repente. Foi uma construção. Primeiro fortifiquei a base. Fiz as pazes comigo. Compreendi o outro que habita em mim e o outro que se habita a si próprio. Procurei a calma e encontrei o furacão que me habita. Habitei a água para descobrir que afinal sou fogo.
Tropecei em todos os degraus: “és demasiado”, “fala mais baixo”. Aprendi a ser pequenina, a não ocupar espaço. Mas não foi de repente que comecei a levantar o queixo, a endireitar os ombros. Não foi de repente — mas levanto-me, e caminho, de olhos postos no infinito.
Eu ocupo espaço.
Eu existo.
Eu sou.
Sou muito, sou tudo. Sou grande — e aceito-me.
Não foi de repente.
Mas, de repente, aceito viver com estes olhos que vêem magia, honrar o visível e o invisível, voltar a acreditar que há bondade.
Chegar aos quarenta anos é como atravessar um portal antigo. Sinto-o abrir-se diante de mim — visível, invisível — chama-me para uma vida sem as amarras que me prenderam, as que teci com atenção e cuidado para que me sentisse segura e em controlo.
Entrarei com reverência, mas também com fogo. Entrarei inteira. Minha.
🇬🇧
It didn’t happen all at once; it was a collection of small details that grew clearer with time. One day, I recognised in my own eyes the same subtle lines I used to see in my father’s when I was a child — first when he smiled, later as a quiet reminder of happy moments. Stories that never quite leave us. It didn’t happen suddenly… I simply wasn’t paying attention.
Suddenly, my body no longer responds in the same way: getting out of bed requires a more mindful stretch, dinner needs to come earlier, a little further from the moment I lie down. My nose and eyes have learned a new squint — that instinctive gesture of “seeing better from afar”. And my memory has become a long patchwork quilt. I’ve forgotten names of those who once walked closely with me, threads from the beginning of this fabric; while others remain near, even across distance and years, like a bobbin always, always full. I am made of them, of the weaving of a kiss, of a hand holding mine, of an embrace whose tactile memory lingers.
I’ve made peace with myself — with not being able to reach everything and everyone, with my need for darkness and retreat. I’ve learned to speak to the “bad Inês”, the one who tells me I’m not capable, not worthy, not loved, that I’m a fraud. “Thank you,” I whisper, “but I am capable, I am worthy, I am loved, I am whole.”
It didn’t happen all at once. It was a slow construction. I strengthened the foundation first. I made peace with myself. I learned to understand the other who lives in me, and the other who belongs to themselves. I searched for calm and found the storm inside me. I inhabited water to discover I am, after all, fire.
I stumbled on every step: “you’re too much”, “speak more softly”. I learned to be small, to take up no space. But it didn’t happen suddenly, the lifting of my chin, the straightening of my shoulders. It wasn’t sudden — and yet here I am, rising, walking, eyes fixed on the infinite.
I take up space.
I exist.
I am.
I am a lot, I am everything. I am big — and I accept myself.
It didn’t happen all at once.
But suddenly, I accept living with these eyes that see magic, honouring the visible and the invisible, believing again in the presence of goodness.
Turning forty feels like stepping through an ancient doorway. I feel it opening before me — visible, invisible — calling me into a life without the bindings that once held me, the ones I wove carefully, lovingly, in an attempt to feel safe and in control.
I will step through with reverence, but also with fire. I will step through whole. Fully my own.